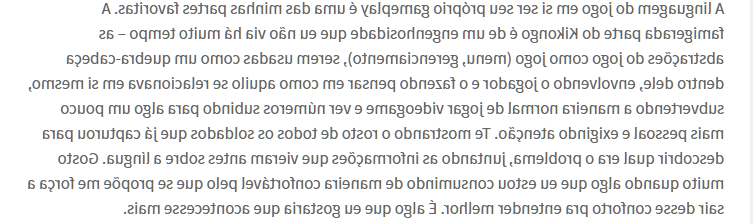esse texto contém revelações importantes sobre o enredo do jogo, então já sabem.
Em 2015 saiu o quinto jogo de uma das minhas séries favoritas. Eu estava o esperando desde, no mínimo, 2012, quando foi anunciado. Era uma série japonesa, de uma empresa que não tem tanta força quanto tinha em outras épocas. Eu joguei por pelo menos umas sessenta horas e, mesmo no final, ficou um gosto estranho de quero mais, ainda que eu não tivesse feito tudo. Foi bastante emocionante mesmo assim, e eu queria que fosse o último dessa série. Recentemente a empresa anunciou outro jogo. Fazer o quê, né?
Mas eu não estou aqui pra falar sobre Yakuza 5. Eu não tenho muito o que falar sobre Yakuza 5. Ele é Videogames: A Novela Da Globo, e eu gosto demais por isso. Um jogo que eu tenho bastante pra falar, porém, é Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.
Esse foi um evento que durou, no mínimo, três anos. A partir do momento que foi revelado, naquele evento, só como “The Phantom Pain” e sendo feito por um tal de Moby Dick Studios, o jogo começou. Alguns juntaram as peças rapidamente, outros continuaram céticos, mas eventualmente um novo Metal Gear Solid foi confirmado, da maneira mais críptica possível – algo primeiramente sem nenhuma identidade, que nos engoliu com aquela música maravilhosa do Garbage, que também dizia que as coisas não eram como elas pareciam ser.
Ali, naquela época, nem tinha uma nova geração ainda. Achávamos que seria pra Playstation 3 e Xbox 360, com os mais esperançosos acreditando em uma versão para computadores – o forte da FOX Engine, afinal de contas, seria justamente a facilidade para ports entre plataformas. Me lembro bem de uma entrevista, algum tempo antes do jogo ser anunciado, em que Hideo Kojima dizia que sua ambição em trabalhar nessa tecnologia era, basicamente, fazer a melhor engine do mundo. Talvez ela seja, mesmo. Acho que agora nunca saberemos realmente.
Kojima disse que um dos motivos pra brincadeira do Moby Dick Studios foi mostrar a engine sem o peso de uma grande franquia atrelado à ela, para as pessoas poderem julgar sem pré-concepções. Foi um sucesso – muitas pessoas acreditaram que o diretor, quando ainda era “Joakim Mogren”, havia sido renderizado com gráficos de computador naquela engine e não que era uma pessoa real. No fim das contas era uma máscara simples, mesmo, mas acho que o ponto se provou. O pessoal gostou tanto que atrelou possibilidades irreais à engine, então ela deve ter agradado.
Foi… engraçado, todo esse marketing. Digo, nós já esperávamos que houvessem coisas do tipo simplesmente por ser do feitio do Kojima – o mais surpreendente seria lançar um jogo normalmente, àquela altura de sua carreira. Mas não foi simplesmente “olha quanta maluquice”, todas as coisas traçavam para o mesmo ponto: identidade. A identidade do estúdio que faria o jogo, a identidade de seu diretor, a identidade do nome do jogo, a identidade de sua engine e, no seu primeiro trailer de verdade, a música (Garbage – Not Your Kind of People) também falava sobre identidade. Era tudo tão óbvio que parecia errado. E foi três anos antes do jogo ser lançado, não sabíamos nada além do histórico de reviravoltas que a franquia tinha. Haviam se passado três anos, também, desde o último lançamento principal da série, o Peace Walker, pra PSP. Peace Walker foi um jogo peculiar. Era, teoricamente, um jogo pequeno – por isso estaria em um portátil, e havia sido feito com multiplayer em mente, também, além de ter o foco em um público menor. Peace Walker foi um jogo que só poderia ter existido no PSP, em 2010. Ele tinha maluquices inconcebíveis para um jogo grande por um estúdio grande.
Não, sério, vamos falar sobre o Peace Walker: que jogo maluco foi aquele! Veio depois do final “verdadeiro” da série, o 4, que pro melhor ou pro pior fechou tudo o que havia pra fechar. A história do Big Boss era bem clara, mas quiseram produzir basicamente um As Aventuras de Snake e Seus Amigos, em que de repente tudo era possível. Aí saiu um jogo em que podíamos colocar nossos amigos em estilingues gigantes e atirá-los contra tanques, e, dependendo das fitas que a gente escutava, um gato nos levaria para uma ilha habitada com monstros de outra franquia de outra produtora. Haviam algumas missões que envolviam render todos os soldados da área com uma banana, e outras que, pra vencermos, era necessário fotografar fantasmas. A história, originalmente feita para o público infantil, era surpreendentemente complexa, com uma carga maior de geopolítica que os jogos anteriores, geralmente focados em personagens. Mostrava como o personagem principal ficou muito doido e completamente paranoico com guerra. Mostrou a completa falta de humanidade disfarçada de discurso heroico dele ao recrutar a primeira criança – coisa que sabíamos que iria culminar nos Metal Gear de MSX. Mas além disso tudo mostrou a liberdade de seu idealizador em um ambiente mais livre e pequeno. Grande parte do orçamento do Peace Walker deve ter ido só para as licenças de Monster Hunter, e o resto saiu por pura engenhosidade e gambiarra com a arquitetura limitada do PSP. As fitas, feitas para a gente escutar no transporte público, permitiam uma profundidade sem fim para o quanto quisessem expandir a história dos personagens. Projetadas como um tipo de podcast, falavam desde coisas relevantes à narrativa do jogo quanto sobre Papai Noel. Contextualizava algumas missões e em outras só esperava que nós fôssemos sensíveis o bastante para perceber que eram feitas apenas para divertir, como as de atirar nos seus soldados que subiam em balões. Peace Walker foi um produto de sua época, era impossível ele estar em qualquer outro lugar. Inclusive, depois saiu a coletânea HD da série, e muitos não gostaram desse (mesmo com a taxa de quadros maior): tem muito “grinding”, os gráficos são “feios”, os chefes têm “muita vida”, coisas assim. É um bom jogo. Eu gostei de jogar nos dois lugares. No PS3 era mais fácil jogar online! Capturei alguns tanques com amigos, fiz algumas armas malucas e brinquei de matar soldados – isso não era tão legal, realmente. Era bem melhor capturar. Snake estava montando sua base, afinal de contas. Peace Walker falou perfeitamente a língua do PSP. A versão de PS3 foi uma tradução.
E aí aconteceu o que aconteceu no Ground Zeroes. Não me lembro bem qual foi a sequência de eventos entre o anúncio oficial de Phantom Pain e o lançamento do GZ, mas me lembro que foi polêmico. Era um jogo curto, só um prólogo, aquela coisa toda. Eu gostei muito, joguei em vários lugares. Fiz tudo o que tinha para fazer no jogo, depois da minha impressão inicial. Eu não tinha gostado muito dele no começo, não. Achei muito pesado. Bem gostoso de jogar, mas pesado. Um amigo jogou ele aqui em casa uma vez e falou “cara, você tinha me recomendado essa série por causa das brincadeirinhas, não pra sofrer desse jeito”. Me senti mal com algumas fitas – vocês sabem quais – ao mesmo tempo que um tanto intrigado com tudo o que acontecia ali. Era bem surreal. Tinha o Skull Face, que achei incrível, provavelmente o melhor vilão da série até então, justamente por não buscar nenhum tipo de empatia. Era uma versão ainda pior do Volgin, do 3. Era sina do Big Boss, essa – primeiro teve que lidar com um comunista maluco, depois com um comunista maluco que queria jogar uma bomba nuclear em Cuba para englobar o mundo inteiro em anti-americanismo, e de repente ninguém mais sabia o que esperar. Sabíamos que ele era cruel, que tinha algum passado com os personagens, mas jamais havia sido citado na série. Era um fantasma. Se não fosse o tema do jogo posterior, daria para dizer que ele foi só tirado da bunda, como os americanos gostam de falar.
Nossa, escrevendo agora percebo que é ainda melhor do que parecia.
Bom, o Ground Zeroes só teve tanto conteúdo por ser um videogame. Sua base-mãe é destruída em uma cena, sem agência nenhuma. Alguém marcou uma inspeção que não era uma inspeção realmente – eram os capangas do Skull Face (XOF – sério) – e tudo é perdido no mar. Não sei como é assistir isso sem ter jogado o Peace Walker e nunca saberei, mas, bem, aquilo foi tudo construído por nós no jogo anterior. Cada soldado morto ali era seu, que você capturou. Cada estrutura foi construída com seu dinheiro, que acumulou capturando muitos helicópteros à exaustão. De repente tudo estava abaixo do mar, junto com seu poder de dissuasão (uma bomba nuclear) que havia sido escondida lá antes. Kaz achou que foi o Cipher, a organização do Zero. O jogador sabia que o culpado era o Skull Face. Ali, naquele momento, já não éramos mais o Big Boss. Nós sabíamos mais que ele. Éramos uma força externa que o controlava conforme apertávamos botões.
É impossível separar o contexto do lançamento com o jogo em si. Também seria um jogo diferente caso Ground Zeroes não tivesse sido lançado quase dois anos antes. Entre um e outro houveram todas aquelas coisas com a Konami, o fechamento da Kojima Productions, o desespero para desatrelar o nome do criador à marca. No próprio Ground Zeroes tem uma missão que dá pra apagar os logotipos dos jogos das paredes, e muitos acham que isso veio justamente da relação conturbada do diretor com a produtora. Nunca saberemos, mas é bem conveniente.
Depois de mais alguns trailers, todos fantásticos, culminando em um que celebrava a série inteira, The Phantom Pain foi lançado, no dia primeiro de Setembro. Um dos trailers anteriores, antes da data ser anunciada, dizia que o jogo seria lançado em “1984” (já que ele se passa em 1984). Era, na verdade, 1/9/84.
Eu acho que ninguém esperava o que a gente teve, quando saiu The Phantom Pain. Mesmo os mais paranoicos, aqueles que juravam com quatro ou cinco pés juntos que, ei, é claro que o Big Boss é o Gray Fox, eles também não sabiam como seria o jogo que apareceu. Mesmo com horas e horas de gameplay de missões diferentes, e das mesmas missões sendo completadas de maneiras diferentes. Mesmo com trailers que mostraram a maior parte das cenas, com cortes engenhosos pra mostrar uma história diferente da que teríamos, do mesmo jeito que ocorreu quinze anos atrás. Mesmo que todo mundo esperasse Algum Tipo de reviravolta, e a maioria delas envolvendo nós não estarmos jogando com quem estávamos, ainda conseguiu ser diferente, e construído de maneira que fosse óbvio o bastante para a clareza gerar desconfiança.
E foi por isso que o gosto no final foi tão agridoce. Nós não éramos o Big Boss, éramos na verdade o Médico do helicóptero do Ground Zeroes, que estava junto no acidente. Com memórias implantadas durante todos os anos do coma, fomos usados para tirar a atenção do Big Boss verdadeiro, que estava construindo seu Outer Heaven verdadeiro, e conhecendo o Gray Fox verdadeiro, salvando a Naomi Hunter verdadeira e treinando a Sniper Wolf verdadeira. Dessa vez foi especialmente cruel – em Metal Gear Solid 2 a bagagem de sequência e o peso de Solid Snake eram muito menores do que os de Big Boss aqui. A mitologia inteira da série gira em torno dele e de seus sonhos militares globalistas. Apesar dele ser o vilão, há um culto de personalidade muito grande em torno de seu carisma, que se tornou muito maior quando Metal Gear Solid 4 apareceu e tentou o redimir de seus pecados. As últimas oitenta horas foram uma mentira. Você não é o Big Boss.
Aí o jogo volta e diz que, ei, você é o Big Boss. Eu sou Big Boss. Todos somos o Big Boss. Como assim?
Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre linguagem e identidade.
A grosso modo, linguagem é o que usamos para nos comunicar, e nos comunicar é prover e absorver informações. Todos nós temos algum tipo de linguagem, seja ela gestos, barulhos, ações. Tudo comunica algo e serve a algum propósito, seja esse propósito algum tipo de interação com terceiros ou só um bate-e-volta cerebral para conseguirmos entender melhor a nós mesmos. Alguns teóricos separam a linguagem em partes soltas, entre o que pensamos, o que visualizamos e o que falamos, mas tudo faz parte do mesmo todo, e o discurso final é o resultado de todo o aspecto linguístico que veio antes dele. Isso depende muito de como somos, do que somos, e em qual língua fomos alfabetizados, em qual dialeto, e em qual ambiente.
“Nós não habitamos uma nação, mas sim um idioma. Não se engane: a língua nativa é a nossa verdadeira pátria”.
Eu imagino que a maior parte de nossos leitores seja ao menos bilíngue, com uma parcela menor falando mais de dois idiomas, mas isso é algo com que a maioria deles pode se identificar: quando estamos aprendendo outra língua, especialmente no período intermediário da coisa, passamos a pensar nessa língua. Não é só uma maneira de dizer – o nosso cérebro adapta sua ordem de pensamentos a um novo idioma, e passamos a organizar dados e informações nele. É muito chato, inclusive, pois conseguimos uma diferente gama de expressões na língua nova e perdemos a capacidade de comunicar algumas delas no idioma anterior, mesmo que existam expressões parecidas. Sempre fica a sensação de que não é exatamente aquilo. Não é que passamos a sentir coisas novas, mas conseguimos organizar a sensação de coisas novas, passamos a catalogar, e entendemos melhor o nosso próprio ser através disso. Já devem ter ouvido a brincadeira de que os alemães têm uma palavra para todas as sensações do mundo, por mais específicas que elas sejam – esse é um dos motivos. Quando aprendemos uma nova língua, aprendemos uma nova maneira de pensar. As diferenças culturais, ainda que sejam, bem, diferentes, passam a ser melhor entendidas. A estética linguística do japonês, por exemplo, é muito mais simbólica – e por isso sua ficção também é. Os Signos são diferentes, os cérebros são diferentes, a cultura é diferente e o pensamento por trás da linguagem que gera todas essas coisas é diferente. E é por isso que o choque em fóruns majoritariamente americanos em relação a histórias japonesas muitas vezes pesa para o “não faz sentido”. O inglês é muito mais literal, menos etéreo. É mais objetivo, e por isso eles buscam mais objetividade e método no que consomem.
Me acompanhem assistindo essa cena do filme “Wittgenstein”, de 1993, que é sobre o filósofo linguístico de mesmo nome.
Nesse vídeo, o professor Wittgenstein começa dizendo que um cachorro não pode nem ser sincero e nem mentir, pois a sua língua e o seu mundo não abrangem esses conceitos. Em seguida, afirma que não conseguiríamos entender o que um Leão diz, caso este falasse. Um dos alunos brinca que poderiam pegar um intérprete para o Leão, mas isso não faria diferença – o mundo do Leão é diferente demais do nosso para suas palavras significarem algo, mesmo se forem as mesmas, mesmo se forem traduzidas literalmente. Não entenderíamos o Leão por ser impossível entrar em sua mente.
Em seguida ele questiona o que está por trás das palavras “esse é um abacaxi muito agradável” e um dos alunos diz que é o pensamento. Qual pensamento? “Esse é um abacaxi muito agradável”. As palavras são literais, e elas querem dizer o que querem dizer, a partir do momento que saem de nossa boca. Um dos alunos bate no próprio rosto e diz que aquilo é só dele, o professor jamais vai saber como foi aquela dor. O professor diz que isso não faz diferença, já que por ninguém mais poder saber que dor foi aquela, ele não precisava ter dito. Foram palavras ao vento. Ele completa que quando procuramos o significado de algo, não devemos fazê-lo dentro de nós mesmos, e sim ver como isso é aplicado ao Mundo, como as pessoas e suas culturas usam aquilo, em um contexto que possa ser visto por mais alguém e então, só assim, duvidado, e através da dúvida, validado.
E por fim, Wittgenstein afirma que a filosofia é só uma consequência da linguagem mal-entendida.
Não haveriam questionamentos caso o entendimento fosse literal o tempo inteiro, não haveria o que duvidar. A parte mais importante, porém, é a de entender a importância do idioma, e como ele nos molda pessoalmente. A nossa língua é a nossa identidade. Ela é uma das demonstrações mais puras de pessoalidade. É nosso contato com o mundo.
Em The Phantom Pain, Skull Face não teve uma língua. Ele conta sua história, que nunca pôde aprender o linguajar de seu vilarejo, que era constantemente atacado por soldados de fora. E que a cada ataque ele precisava aprender um idioma novo para conseguir se comunicar com eles. Skull Face não teve uma língua mãe, algo que pudesse moldar sua personalidade. O símbolo se estende: teve todo o corpo queimado, perdendo também seu rosto. Descobrimos que além disso ele também fez parte da unidade XOF, secreta, que servia para auxiliar outros soldados sem a consciência destes – fazendo coisas como esconder corpos, dar cabo de munição no chão, etc. Ele estava por trás de Snake na operação Snake Eater, de MGS3, arrumando qualquer bagunça que no nosso então herói tivesse se esquecido de organizar. Ele foi sempre uma sombra – não teve língua, nem rosto, e por fim não teve nem nome, visto que tudo o que fez era atribuído a outras pessoas. Então, é, se não ficou claro, Skull Face é uma enorme alegoria para a falta de identidade causada pelo problema de não ter uma linguagem própria. A sua desumanização que começou no Ground Zeroes não era apenas para mostrar uma pessoa malvada fazendo maldades – servia justamente para afastar seu ser de coisas que nós temos como sagradas. Isso vai desde o conceito da traição até a sexualidade perversa, a corrupção de signos infantis e o contraste entre seus métodos horríveis sem justificativa e outros militares do Camp Omega, como o Glaze o Palitz, que se mostravam humanos traumatizados caso fossem capturados.
Ninguém sabe quem ele era, as pessoas se referiam a ele como um fantasma, não conseguiam ver seu rosto, confundiam sua voz. Skull Face apareceu do nada e nunca mais foi citado na série justamente por isso – é claro que ele não foi planejado desde o começo, mas todo o seu arco acaba dependendo justamente da falta de informação que temos sobre ele. Para não dizer que nunca aconteceu, no Peace Walker, caso você ativasse o alerta em uma fase específica e numa missão específica, soldados da XOF eventualmente apareciam – Ground Zeroes havia sido primeiramente planejado no PSP, então era um gancho escondido. Fora isso, é ficção recursiva: precisávamos que nunca tivesse aparecido para ele fazer sentido.
Aí chegamos no seu plano final e o arco principal de Phantom Pain: a extinção da língua inglesa, através dos parasitas. Por ser a língua franca, o inglês é um idioma opressor, que acaba com idiomas menores, os impedindo de florescer. Pelo idioma moldar a nossa forma de pensar, o fato de uma língua só ser falada pelo mundo inteiro homogeneíza todos os pensamentos culturais que poderiam ser diferentes. Pessoas como ele, de origem em pequenos vilarejos e tribos, poderiam ser relevantes culturalmente de novo, espalhar seus ideais, sem o imperialismo da América. Em vez de um único governo central, como era o plano de Zero, seria uma anarquia constitucionalizada. Tem alguma coisa a ver com bombas nucleares pra essa galera, também, mas isso é pra fazer sentido no universo de Metal Gear – o ponto, no que está além do jogo, é a extinção de uma forma opressora considerada pelo vilão como controle mental, em prol da busca por identidade linguística e o controle geral por meio de uma outra forma escondida nas entrelinhas.
Por isso Venom não responde durante a cena do jipe. Ele não queria falar inglês para o Skull Face. Quando eles finalmente acertaram as contas, foi sem nenhuma palavra.
Essa não foi a primeira vez que MGS flertou com esse tipo de coisa. O nome “La Li Lu Le Lo” utilizado nos outros jogos para se referir aos Patriots não é apenas por soar engraçado – é que simplesmente não existe o vocativo “L” em japonês, geralmente sendo substituído por “ru”. Os Patriots, portanto, controlavam o zeitgeist mundial em áreas cinzas do próprio idioma, numa maximização moderna e tecnológica do conceito parasítico de TPP, que era, por sua vez, a maximização conceitual através de parasitas e bombas nucleares de uma escola de pensamento que sempre existiu no mundo, o estudo linguístico e a identidade que vem através dele.
Isso não é explorado apenas no Skull Face: a Quiet é outro exemplo, onde ela aparentemente perdeu a capacidade de se comunicar após já ter uma identidade formada, e então não consegue mais expressar os próprios pensamentos e precisa achar uma outra forma de linguagem para chegar a suas conclusões e expressar sua própria essência. E é aí que a gente chega em outro aspecto bastante importante do jogo, que é, bem, o que a gente joga.
A Quiet é o único companheiro humano de Venom Snake, e só poderia ser assim já que, pro objetivo imposto, a fala não seria o suficiente. Ela não fala e não poderia falar: o desenvolvimento de seu personagem em relação aos outros só pode existir enquanto função mecânica, algo muito mais imprescindível em qualquer jogo do que cenas ou linhas de diálogo. Nós aprendemos a gostar dela por ela influenciar diretamente a nossa maneira de interagir com o mundo proposto, nos ajudando em nossas missões, na exploração, no combate, e assim por diante. A Quiet não precisa falar inglês. Ela fala conosco, e com o Venom, através de suas ações dentro do jogo, que, por sua vez, depende de nós. Mesmo no contador de relacionamento dentro do próprio jogo, as coisas crescem sem a agência de um criador, mas pela nossa. O Venom gosta da Quiet por nós gostarmos da Quiet, por nós precisarmos dela, por ser uma ajuda imensa em várias missões. E no final do seu episódio, quando ela vai embora, nós sentimos isso de maneira muito mais efetiva – a missão é opcional e só é liberada caso nós tenhamos a “barrinha de amizade” cheia, que só aumenta conforme a levamos para outras missões. Nós precisamos gostar dela antes de perder pra essa dinâmica fazer sentido. Não é que um relacionamento padrão, com diálogos e milhares de cenas, seja ruim: mas um que vem através de nós mesmos, no jogo, é um aproveitamento muito mais rico da mídia. A fita com sua música, depois de escutarmos algumas vezes, quebra.
Aí depois de umas semanas a Konami patcheou a Quiet de volta no jogo. Spaghetti Cinema.
O jogo foi muito mais dependente da nossa agência, dessa vez. Acho que todo mundo já falou sobre isso nesse ano desde seu lançamento, mas a ausência de cenas e o fato das maiores explicações sobre a história acontecerem enquanto nós jogamos, numa versão um pouco mais pragmática das fitas do Peace Walker, faz com que tudo seja um pouco mais nosso. Tanto o Afeganistão quanto a África são campos expansivos separados em pequenas bases, mas em todos os momentos a gama de ações disponível é enorme, mesmo nos que não tem nenhum inimigo pra gente tocar com nossas armas ou com nossos punhos. São pequenos pontos de level design espalhados em um mar de possibilidades de expressão; dependendo da gente a escolha do que fazer nessas partes. Eu gosto, mas até entendo quem não gostou, ainda que seja uma reclamação bastante equivocada. As coisas que eu não gostei são um pouco mais específicas.
Assim, eu queria a missão do Senhor das Moscas, capítulo 3, mais coisas grandiosas entre eu e a Grande Revelação, mais outposts, outros mapas, etc. Mas isso são só possibilidades. O que me incomodou foram coisas como, na missão de salvar as crianças soldado, mesmo se eu só tiver armas não-letais, o Venom tirar uma M4 durante a cena. O que me incomodou foi não ter modelos pros animais pequenos que capturamos. Os dardos não ficarem grudados na cabeça dos guardas. Coisas desse tipo, esses detalhes. São coisas que não passariam em jogos anteriores, mas aqui passaram. O desenvolvimento de jogos AAA tem dessas: listas de prioridades, coisas “importantes” e “não-tão-importantes” em planilhas. Tudo custa muito caro, então reanimar uma cena inteira em um momento que a grande maioria dos jogadores vai ter uma arma letal de qualquer jeito fica no “não-tão-importante”. Render soldados com bananas é não-tão-importante. Atirar nos balões dos soldados em um minigame com música engraçadinha é não-tão-importante. Esse é o motivo para o Peace Walker, apesar de ter uma estrutura relativamente parecida, teve muito mais variedade em suas missões secundárias – era um jogo menor, e, por isso, pôde fazer mais.
Me entristece, é claro, mas é a vida. Nos resta imaginar como seria The Phantom Pain se a maior parte do seu desenvolvimento não tivesse sido dedicado à engine (que só Deus sabe onde será usada agora) e se todas aquelas coisas da Konami não tivessem acontecido.
Mais importante do que o que não tem no jogo, porém, é o que tem, então vamos falar sobre o Venom Snake. Ele não é o Big Boss. Ele era o Médico. Entretanto, ele também era o Big Boss. Pois nós somos o Big Boss. Todo mundo é o Big Boss! Mas sério: alguns reclamaram que foi só pelo choque, ou pela reviravolta, já que precisava ter uma – e é um pouco mais sutil que isso. Além de tocarem nesse ponto em alguns acontecimentos do jogo (o DNA do Eli, a inteligência artificial da Boss, etc), e no fato do jogo inteiro te bombardear com referências ao David Bowie (que descanse em paz) mas a única música dele no jogo ser um cover, precisamos lembrar que o tema do jogo é identidade, e sobre mostrar que o Big Boss é um vilão. O Médico aceitou a troca de sua identidade por um motivo político no final do jogo, mas foi importante ele não saber o que estava acontecendo até lá, e foi importante nós não estarmos jogando com quem deveríamos estar para mostrar que as pessoas podem fazer qualquer coisa em determinado contexto com as informações que elas tem. Metal Gear Solid 2 tocou nisso, e Phantom Pain também: Big Boss é só um título, como Snake era só um título. Big Boss é propaganda. Em Metal Gear Solid 4, a Eva fala que houve importância em transformar a ideia de Big Boss em algo messiânico, e no fim das contas as vítimas disso fomos nós mesmos.
Big Boss é uma ideia. Um meme, como o jogo diz. Todo mundo pode ser messiânico com o devido comercial. A própria Operação Snake Eater não foi o que achamos, e só foi bem-sucedida por causa da XOF. Ele é uma fabricação. Seu carisma foi usado para demonstrar uma ideia, estampar um aspecto político do mundo, mas é tudo mentira. Qualquer um poderia ser o Big Boss. Nós fomos o Big Boss enquanto o Big Boss fazia outras coisas. Seu arco de vilão se completou: em Peace Walker ele abraçou sua versão megalomaníaca e psicopata que vemos em Metal Gear 2; em The Phantom Pain ele se mostra como o vilão da série não por decapitar crianças e chutar a bengala de velhinhos, mas por enganar seus amigos próximos, seus soldados, e o próprio jogador, por motivos egoístas, para salvar a própria pele, por nenhum país, por nenhuma ideologia: só pra si mesmo e seu sonho histérico de globalização militar anárquica. Não é uma honra ser chamado de Big Boss, não aquele Big Boss. O Big Boss bom é uma projeção nossa – o sofredor, revolucionário, que salvou o mundo diversas vezes de ameaças nucleares, o da propaganda. Esse Big Boss é nosso, nós o controlamos, ele dependeu de nossas ações. O Big Boss verdadeiro não. O que treinou crianças para matar os pais de outras crianças, que torturou soldados, esse Big Boss é o vilão da série.
Quando o Venom negou seu passado (que é representado através da “quest” da Paz, que só existe por ele se sentir culpado enquanto Médico, por não ter conseguido salvá-la) para se tornar mais um “Big Boss”, fez exatamente o contrário de Raiden. Enquanto um mostrava uma versão idealista da coisa, com o personagem aceitando sua real identidade e motivações e se soltando das amarras que o prendiam, o outro resolve negar seu passado para abraçar essa personificação mentirosa, se prendendo ainda mais no que o manipulou o tempo inteiro. E podemos projetar o que quisermos para explicar sua motivação para isso – medo, conforto, vontade de fazer algo maior, ou talvez até ter sido convencido pelo Skull Face, após perceber que a vingança toda não foi realmente sua.
Pensem comigo: se fosse um jogo sobre o Big Boss de verdade criando o Outer Heaven de verdade, conhecendo o Gray Fox de verdade, salvando a Naomi Hunter de verdade e treinando a Sniper Wolf de verdade, não precisaria existir. Essas coisas são legais de ver, mas já sabemos que aconteceram. Elas são importantes para a história, pro “lore”, pro universo da série, mas já são informações presentes em várias fontes dentro dessa mesma série. O que tivemos, no lugar, foi um jogo novo, diferente, e que teve a liberdade de ser sobre Algo. Eu gosto de coisas que são sobre Algo. Pode ser que conseguissem encaixar todas essas coisas sobre linguagem e identidade na história do Big Boss “normal”, mas pra que fazer isso se podiam colocar tudo em um contexto novo? Embora tenha uma infinidade de problemas, definitivamente não é um jogo estéril.
Com todas essas coisas, ainda tem um homem de meia idade e tapa-olho em uma plataforma militar no meio do oceano correndo atrás de um moleque pentelho que se esconde no meio dos barris de combustível querendo se vingar de sua suposta paternidade. Isso é Metal Gear. Isso nunca existirá em nenhum outro lugar.
Eu gosto tanto dessa série pois, até em seus momentos mais baixos, sempre foi sobre algo além dela mesma. Alguns acham isso pretensioso, mas a pretensão é minha waifu. É uma série que consistentemente tenta falar sobre Coisas Reais, no meio de todos os robôs gigantes, vampiros bissexuais e repetição de diálogo, no meio de esquemas de controle confusos, telas de codec infinitas, e sistemas em cima de sistemas que conversam entre si de maneiras que nunca entenderemos de verdade. Um produto que se reinventou inúmeras vezes por quase trinta anos, sem nunca perder seu apelo central que eu sinceramente não consigo nem apontar qual é, mas está lá.
E agora ela acabou. Não acabou realmente, mas acabou no seu estado atual. Não era simplesmente o conjunto de clones e maluquices políticas internacionais, mas uma expressão, acima de tudo, autoral. Todos os acertos e erros que aconteceram em todas essas décadas se dão devido a uma equipe muito competente regida sempre por uma pessoa. Foi provavelmente o primeiro contato de muitas pessoas da nossa geração e do nosso círculo de gostos com o conceito de direção temática e com o interesse por criadores num geral. É impossível superestimar essa importância.
Metal Gear Solid V (não 5, V, de Venom) é sobre muitas outras coisas. A influência militar em áreas menos desenvolvidas, a relação entre corporações militares privadas e guerrilha, o abuso governamental sob pessoas vulneráveis, vingança, problemas psicológicos causados pelo conflito, guerra, ameaça nuclear, perda. É também um jogo esquisitíssimo, que se nega a dizer muitas coisas e tem períodos enormes sem acontecimentos narrativos concretos. Seu clímax acontece muito antes de acabar em si. O capítulo 2 é uma quimera de conceitos em que as missões “verdadeiras” são repetidas e as de importância real viram side-ops, e nenhuma delas tem nada a ver com o que acontece na base, que tem seus eventos ditados simplesmente pelo tempo e por coisas que não conseguimos ver por estarmos em campo capturando o milésimo nono “soldado habilidoso” que apareceu no menu. É um jogo traiçoeiro e contraditório. É maravilhoso. E é o último desse tipo que existirá.
Eu obviamente tenho um apego emocional muito grande pela série e pelo que ela significa, mas fico feliz que foi o último, também. Ainda existem videogames. Agora Hideo Kojima pode ir atrás de outras aspirações, e novos criadores podem olhar para trás e se inspirar pelo seu trabalho.
Foi um questionamento pessoal, esse, quando terminei: será que daqui a um ano eu ainda vou achar The Phantom Pain relevante? Será que foi só “hype”? Será que ele realmente me disse algo? Será que se eu escrever todas as minhas impressões agora elas não serão equivocadas, confusas, influenciadas pela política atual? Então quis esperar, quis entender o jogo e entender os motivos pelos quais gosto dele. A minha vida mudou bastante nesse tempo. Meu apreço por ele não.
Será que daqui a quinze anos eu ainda vou achar esse jogo importante como aquele que saiu em 2001? Isso é impossível de saber, mas não sei se importa, também. Provavelmente daqui a quinze anos ainda vai ter gente fazendo videogames, e, se Deus quiser, a Ubisoft vai ser a Presidente de Todas As Coisas Ruins Do Mundo então a indústria do entretenimento eletrônico digital será um mercado pequeno demais pra ela, que estará investindo no Netflix (Übiflix será o nome [o trema é essencial]). E talvez a gente ainda jogue, também. Talvez nossos filhos joguem. Eu achei que The Phantom Pain seria o último videogame que eu colocaria minhas mãos, já que não teria nenhum motivo pra tentar outros depois. Fico feliz por estar errado.
ps.: sim, é só um jogo.
ps.2: eu reclamei da falta de detalhes, mas não quer dizer que eles não existam. meu favorito é naquela primeira missão de extrair um soldado intérprete de russo – um deles pede ao o outro, em russo, para ensinar uma frase que ele possa dizer para um americano, e ele fala “eu dormi com sua namorada na noite passada”, dizendo que o significado é, na verdade, “eu sou um bom amigo do seu amigo”.